Pela invenção de utopias possíveis: “A guerra da água”, de Manoel Ricardo de Lima, e mais
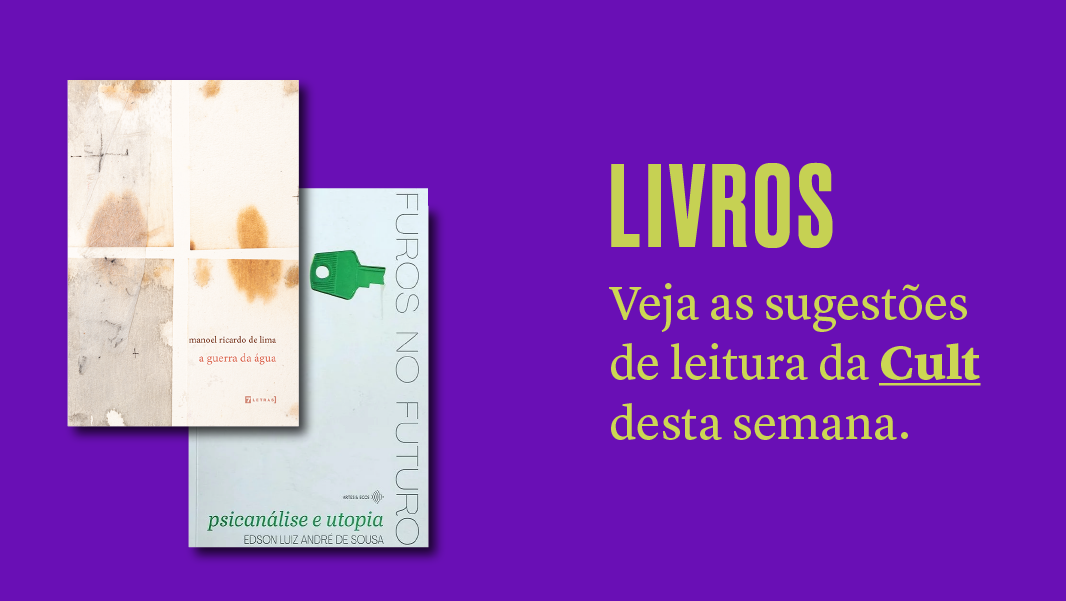
O estado de guerra generalizado ainda move a globalização. Água é aquela que movimenta, que sobra, que falta, que abunda. Água sem dono, dominada, que (quem?) lucra, que faz viver, que mata. “Pêndulo do mundo?”, indaga Manoel Ricardo de Lima, sem se esquecer das histórias do Ganges, Nilo, Reno, Amazonas, Prata, Orinoco, Persinunga, Capibaribe/Capiberibe, São Lourenço, Mississippi, São Francisco e Parnaíba, em cujas margens nasceu seu personagem, Oito. A guerra da água encara o desafio político e poético de criar uma ficção do presente, apontando incessantemente para (im)possibilidades de utopia. O livro, publicado em 2022 pela editora 7Letras, é o último da série Livros de guerra, que entretece a novela As mãos, as curtas narrativas de Jogo de varetas e a reunião entre o poema e o cinema de Geografia aérea.
No princípio era Oito, esse personagem, “infinito vertical”, sentado diante de um rio seco, numa cidadezinha entre o sertão e o mar, aparentemente à espera da água. Ele tem o corpo todo estropiado, resultado de um acidente com uma árvore. Acabou desmembrado, sobrou apenas um pouco do tronco e os órgãos internos, que ficaram milagrosamente intactos. Passou por diversas cirurgias e sobreviveu após a instalação de próteses que reconfiguraram todo seu corpo. O acúmulo de suplementos da técnica faz com que sua vida seja apenas sobrevida. E, assim, ele luta.
Quem fala é esse corpo, que marca a impossibilidade de separação entre natureza e técnica, acendendo seu cigarro de plástico, repetidamente, sem ser sobrevivente nem testemunha. Nesse ato se revela a força poética de Manoel Ricardo de Lima em A guerra da água. Ele confia no vazio desse ser, e permite, em suas próprias palavras:
Subtrair da terra outra vez apenas o espaço primitivo do corpo e tocar a linguagem como um cadáver que vem desativar, a nu, todo poder, qualquer poder (p. 86).
A narrativa não caminha, é uma composição de sucessivas criações de estados, estados de espera. Oito também não se move; já que está na beira do rio, a única posição que pode tomar é também a da espera. Essa que se fixa em imagens: fome, alegria, impossibilidade, dor, dinheiro. A linguagem afiada (corta?), árida (falta?), abundante (porém econômica), violenta.
Violenta é também a criação da terra, ou melhor, a sua invenção. É a linha do horizonte que recompõe e permite essa ação violenta, ao marcar a divisão entre Terra e Céu. Uma das ações contínuas de A guerra da água é a de desestabilizar a solidez, objetiva, definidora, o mito. Toda a existência mecânica livre de Oito (vertical) lhe permite contestar a fixação, a estabilidade, da linha do horizonte, o que torna possível uma subversão revolucionária: ele acredita que o impossível ainda existe. O livro provoca, revela que o trabalho é contínuo, pois não cessam de se produzir novas linhas horizontais, morte que domina a paisagem. Conta até mesmo sobre um tal general que tenta criar uma: instala cercas em volta do rio para cerrar uma grande distância deserta. Contudo, uns vagabundos acabam com o general e seu exército e derrubam as cercas, pois que a água deve ser livre, ou há algo errado. É a guerra. “Anular toda a diferença entre quem oprime e quem sustenta o rio é a tarefa definitiva da guerra biológica” (p. 10)
Os mitos de criação – cristão, babilônico, grego e até mesmo Ulisses – aproximam o leitor de Oito na tarefa de desestabilizar essas linhas. Ulisses e Oito me levam a outra narrativa joyceana: Finnegans Wake. No princípio era o verbo: “riocorrente, depois de Eva e Adão, do desvio da praia à dobra da baía, devolve-nos por um commodius vicus de recirculação de volta a Howth Castle Ecercanias”, no início da tradução do livro por Augusto de Campos. E em A guerra da água, a história de criação da cidadezinha de Oito:
O rio de água barrenta e o braço, o Igaraçu, riocorrente, riorrolando, palavra que advém da faca de retalhar carne, Parnaíba, que os primeiros fazendeiros recém-chegados da Bahia, quase a sudeste, trouxeram na bagagem, se instalaram na Vila e se alumbraram com as cinco pontas de um delta gigantesco e expandido em direção ao mar e com os índios Tremembés que nadavam incansáveis (p. 67).
Assim como Oito, a história de Joyce flui circularmente, o começo se liga ao fim, infinitamente. Nela aparecem perto de mil nomes de rios, a depender da astúcia de quem conta, e também palavras cuja melodia e sentido sugerem o som da água.
Do outro lado do rio, hoje seco, onde Oito espera, há gente: são lavadeiras, memória de outro tempo. Seriam elas as lavadeiras do capítulo 8 de Finnegans Wake, que se transformam em árvore a pedra: vida e morte? Parte de Oito está ali. A cena do diálogo coloquial entre as duas lavadeiras, à beira do rio Liffey, começa com a palavra “O” (que seria uma das referências à água, eau, em francês) e segue seu trajeto circular, sempre voltando ao mesmo ponto. O circuito do rio também é quase circular. A circularidade que forja duas partes, infinitas em sua singularidade, culmina a verticalidade infinita do Oito. Essa cena aconteceria, segundo alguns estudiosos, após a criação do mundo, já que antes de Adão e Eva era desnecessário lavar roupa. Oito está nu, sempre nu.
As crianças o encontram assim, nu, e também surgem entre possibilidade e impossibilidade, ramificações de utopia. Não são simples humanos. Sempre estiveram ali, em cima da duna, antes mesmo de Oito. São 12 crianças corsárias, máquinas de guerra, “soldadinhos e palavra e ferro fundido”. Elas se aproximam de Oito, riem espalhafatosas.
Elas não têm a posse do corpo, nem de nada, a morte é livre, uma antecipação, porque caminham sempre para a frente, assim rejuvenescem e descansam, se é que se cansam (p. 99).
A alegria é a prova dos nove, lembra-se seguidamente Manoel, sem deixar esquecer de que a alegria é também infinito vertical – talvez esteja aí a proximidade dos nomes de Oito e das crianças, tão indagada por elas. Carregam consigo a aprendizagem intensa da presença.
Outras aprendizagens, utopias, impossíveis, pulsam. Uma delas vem do tio assassinado, Assis, bastardo, que gostava de contar histórias contrariando qualquer acordo patético com a totalidade.
Repetia a Oito que as coisas não vêm do nada, mas do impossível, que a paisagem, a geografia imaterial da espécie terrestre, os seres humanos, distribuem-se em vagabundos, formadores, construtores e poetas.
E lembra, na hora de morrer, fazendo-se presente, que há uma grande afinidade entre os poetas e os vagabundos: estes erram à procura de uma nova paisagem e aqueles veem e anunciam a geografia imaterial por vir.
Essa chama não arrefece no livro do poeta, que faz conviver, na escrita, o vagabundo errante. A água falta, a guerra é permanente, assim como a luta é infinita. Assim, outra impossibilidade surge: a de um esgotamento da utopia, devaneios de outra realidade possível.

Marina Bento Veshagem é doutora em Estudos da Tradução, atriz profissional e professora substituta de Língua Portuguesa do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Publicou a tradução A armadilha de Medusa (Rafael Copetti Editor, 2016).
por Redação

Em oito ensaios, o autor esboça aproximações entre a utopia e a psicanálise, tema que pesquisa há anos. Para isso, além da atravessar a história e a política, o psicanalista Edson Luiz Andŕe de Sousa tece análises de filmes, poemas, epopeias, romances, contos, ensaios e propagandas. Como o autor escreve na introdução, a utopia coloca em cena, mesmo nos cenários mais desesperançosos, “nosso direito a imaginar outros mundos”. Por isso defende a utopia como um pensamento rebelde, “próximo a arte e a literatura, instrumentos para reagirmos com novas narrativas ao empobrecimento da linguagem que alimenta a alma dos tiranos”. Para o autor, tal aproximação é profícua uma vez que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, inventou um método que abriu espaço para “novos desenhos de vidas que se instauram a partir daquilo que somos capazes de narrar”, complementa Edson Luiz.

Ao longo dos 45 poemas do novo livro da escritora paulista Karina Ripoli, o leitor é convidado a acompanhar o eu poético em seus mergulhos e naufrágios. Aqui, eles atravessam uma ampla gama de experiências: das imagens mitológica, povoadas de sereias, ninfas e musas, às experiências cotidianas de uma mulher em uma sociedade tão machista, que lhe exige “sorrir/ arrumar um marido/ parir dois filhos/ botar um vestido”, como lemos em “tudo o que seria bom pra mim”. Como escreve Marina Monteiro na orelha da obra, “em Vocação para naufrágios, flutuamos, vamos de arrasto, embolamos em espuma e areia, enfrentamos a solidão do alto mar e o calor das tripas de um cachalote descomunal”, constituindo uma “poesia que ironiza, gargalha, denuncia, subverte, escancara, aproxima”.









