A aceleração da história e o vírus veloz

A rápida reconfiguração do mundo e da vida que a pandemia do novo coronavírus Sars-Cov-2 vem produzindo nos colocou em posição radical de espanto, surpresa, dúvida e renovação necessária – isso se estivermos de algum modo em contato com o lado vivo do fenômeno, e não sob o simultâneo regime da angústia, do luto e da melancolia, do choque ou do esmagamento traumático pela força irrecusável do real. O movimento coletivo e político que tomou o planeta em 2020 se dá diante da máxima alteridade da consciência das ilusões humanas, tão vitais na constituição da cultura, da proteção ante a presença concreta da morte em toda a trama de nossa vida.
Certa vez o historiador Paul Veyne definiu o momento histórico da Revolução – pensando com a experiência moderna francesa do fenômeno – como aquele em que as vozes, as narrativas e as explicações da experiência se multiplicavam ao infinito, sem que nenhuma delas pudesse enfeixar a totalidade do mundo que acontecia para além do entendimento: a própria revolução. Diante desta produção emocional e política ampla e variável, terrorífica e nova, brilhantemente radical e obscuramente perigosa, que é o vírus em nosso mundo e vida, ainda em busca de determinação de caminhos e de possibilidades, de nome e de inscrição de experiência, de fato ainda inconcebível e aberto, algumas elaborações do caráter político e econômico de sua atuação global se ligam ao necessário trabalho sobre o que o vírus pode significar, ou performar, fazer ou criar na vida dos homens, algo para além, ou para aquém, se pudermos ver um dia, do horror da experiência crua da dissolução do mundo e da morte que paralisa a vida e a todos.
O vírus e sua violência infeciosa não são apenas um “objeto natural”, como se tem observado, um acontecimento puro das possibilidades da vida no planeta, um caso genético darwiniano de microbiologia a mais, entre as tantas catástrofes que nosso momento de antropoceno agonístico tem imprimido sobre o ambiente mais amplo, este objeto todo, de disputa radical e de violência particular, que já deixou de nos ser comum. Sob o ataque de um agente rápido e eficaz vindo de nosso próprio mundo em desequilíbrio, um agente preciso e sincronizado para arruinar exemplarmente nossa vida técnica tida por infinita, atingindo a existência e a cultura na base de nossa infraestrutura, esquecemos ainda uma vez que nós mesmos temos sido responsáveis pela liquidação de espécies e da diversidade biológica em todo o planeta, em velocidade verdadeiramente industrial, em escala global como a de nossos negócios. Nossos próprios campos de extermínio da Terra, que evidentemente não se deixa exterminar, mas se altera de forma agonística para nós, nunca pararam de se multiplicar. Dos cem tigres que restaram na região de Bengala, como li há quatro anos em um jornal na Índia, ao rinoceronte branco extinto das savanas africanas, aos corais de todo o mundo que desaparecem em tempo real, acidificando as águas e levando com eles os peixes maravilhosos que dizíamos admirar, às abelhas que morrem aos milhões no Brasil do agronegócio, com seus 467 pesticidas de toda ordem de toxidade liberados somente em 2019, extinguindo o mel e destruindo a cadeia da polinização da vida, ao atum contaminado pela água pesada da catástrofe nuclear de Fukushima, no Japão, às queimadas e derrubadas constantes dos posseiros do neofascismo brasileiro na floresta amazônica de precisamente agora, às pestes biológicas, lançadas como bombardeio constante de nossa vida sobre a dos demais seres do planeta, nossa intervenção radical e inconsciente, ou até mesmo plenamente consciente, sobre a massa viva da Terra não para de acontecer nem de acelerar sua frequência sempre mais ampla e eficaz.
Os antropólogos também nos ensinam que do mesmo modo que exterminamos a massa biológica em um processo de monotonizacão da Terra, que apaga as transições entre as massas humanas, a industrialização que nos é própria e a vida e as necessidades dos outros vivos, também exterminamos sistemas de vida, linguagem e experiência do próprio humano, outras ontologias e outras cosmologias, diferentes e alternativas, que poderiam muito bem nos ajudar a dar outras perspectivas para nossa jornada acelerada rumo ao nada. Nada impedia portanto, nesta guerra de fundo invisível ao conceito, mas muito visível em todo ato de progresso, de um certo homem contra tudo o que se move ou vive, que em algum momento do nosso jogo satisfeito do desequilíbrio e da morte do que não é nosso próprio lugar privado de sobrevivência, de classe, de raça, de técnica e nacional, que nós mesmos entrássemos em regime de liquidação biológica ambiental, e passássemos a ser alvo de nossa espetacular violência, como todos os demais existentes. Isso se dá pelo fato cotidiano de ser assim que tratamos grande parte da vida sobre a Terra: objetificação, dessolidarização, violência e extermínio. Terra e vida como commodities, resistência neutra ao progresso, ao poder e ao mercado; e não vida, diferença, espanto, convivência, maravilha, contemplação e aprendizado. Toda poesia diante da vida e do espanto diante de nós mesmos leva o selo simples do valor, e a marca pobre da mercadoria.
Muito pelo contrário de ser apenas um objeto e natural, para nós, seres humanos culturais, simbólicos e tecnológicos, o vírus também é um acontecimento histórico, claramente político-ambiental, de um momento fundante da consciência de nossa ação em nosso degradante mundo avançado, da natureza da vida sob o regime universal da industrialização e da globalização de capitalismo tardio. Ele é também um fato tecnológico hipercontemporâneo, desta realidade histórica ampla que não pode lhe ser extirpada. O vírus, como vimos em tempo histórico real, de fato viajou simplesmente a jato por todo o planeta, tendo os melhores hospedeiros vivos e os melhores assentos possíveis, nosso próprio corpo, assim como fazem os executivos da reprodução e do crescimento do dinheiro mundial, seus primeiros vetores, e, da noite para o dia, em questão de poucas semanas, estava presente em cada país da Terra. O filme Contágio, dirigido por Steven Soderbergh, contou muito dessa história, ainda em 2011, de modo quase perfeito e em detalhes, na máxima velocidade da profecia dos sonhos, da clarividência profana do cinema, para a consciência e a inconsciência geral de uma época. A diferença pequena de nossa situação e a do filme é que lá o vírus era ainda mais rápido em sua destrutividade biológica A potência de infecção do vírus e seu efeito econômico global diz respeito também à própria potência técnica universal da época, assim como é o próprio filme, esse produto coletivo que o antecipou, que pressentiu em sonho a peste, como disse Antonin Artaud, simplesmente contando a história com uma década de antecedência. As comunicações e interligações de todo o planeta, com seu gasto monumental de energia, ordenadas até hoje apenas pelo movimento ascendente do Capital global fazem parte plenamente da Covid-19. Aquilo que Theodor Adorno chamou, com Karl Marx, de nível de técnica da época.
O vírus, e sua mensagem planetária ainda enigmática e ainda múltipla, mas certamente um fato social global total, são uma fusão de um real natural, desde condições socioambientais degradadas, crise da indústria na Terra e na terra dos corpos humanos geridos em massa que preparamos durante décadas com cuidado para seu advento – as condições de destruição daquilo que meu pai, Aziz Ab’Sáber, junto com Paulo Emílio Vanzolini, chamaram um dia de refúgios biogeográficos ou morfoclimáticos para a aceleração do relógio da vida – um campo de destruição que foi articulado com a tecnologia de ponta de nosso sistema geral de tráfico e de fluxos, tecnologia globalizada mantida sob a égide da forma mercadoria, de comunicação e de circulação acelerada de pessoas, de serviços e de bens. Assim, o vírus é, em suas facetas produtivas para nós, de crise e de morte, simultaneamente um objeto “de natureza”, referido ao seu autoengendramento imanente, a ser estudado e desarticulado por ciência, e um real objeto político e econômico, um objeto da natureza humana, que tem profundidade histórica e faz efeito sobre a vida social das nações. Assim como é um efeito de retorno sobre todos nós dos produtos recusados de nossa própria tecnologia e de nosso modo de vida, de nossa técnica do tempo, de nosso próprio potencial de invenção objetificante da natureza, para nós muito mais coisa do que vida.
De nós mesmos portanto, dimensão tecnológica imanente que não se separa da potência e dos efeitos do vírus em nossa vida. Como o vírus de internet, e sua promessa constante de catástrofe global sempre adiada por mais um ano, gerado conceitualmente por homens, que infecta nossos computadores e que só existe porque os computadores existem, o coronavírus de agora só é o agente potente que nos põe em risco radical por estar exatamente dentro da grande maquina produtiva humana, nossa época, sendo fruto de processos estabelecidos por pessoas e pelo poder, que vem de longe. A comunicação e os deslocamentos ubíquos e extremamente rápidos, que levam homens, coisas e dinheiro por todo o planeta, são condição da força de ataque real do vírus sobre esse próprio sistema de vida, o planeta humano, em um verdadeiro nó borromeu da imanência catastrófica de nosso mundo sobre si próprio. Ele parasita nossas células e nosso DNA, tanto quanto todo nosso sistema mundial de transportes transnacionais de massas e a jato. E visa à nossa vida, tanto quanto a ordem geral de práticas e ritmos da vida universal de mercado.
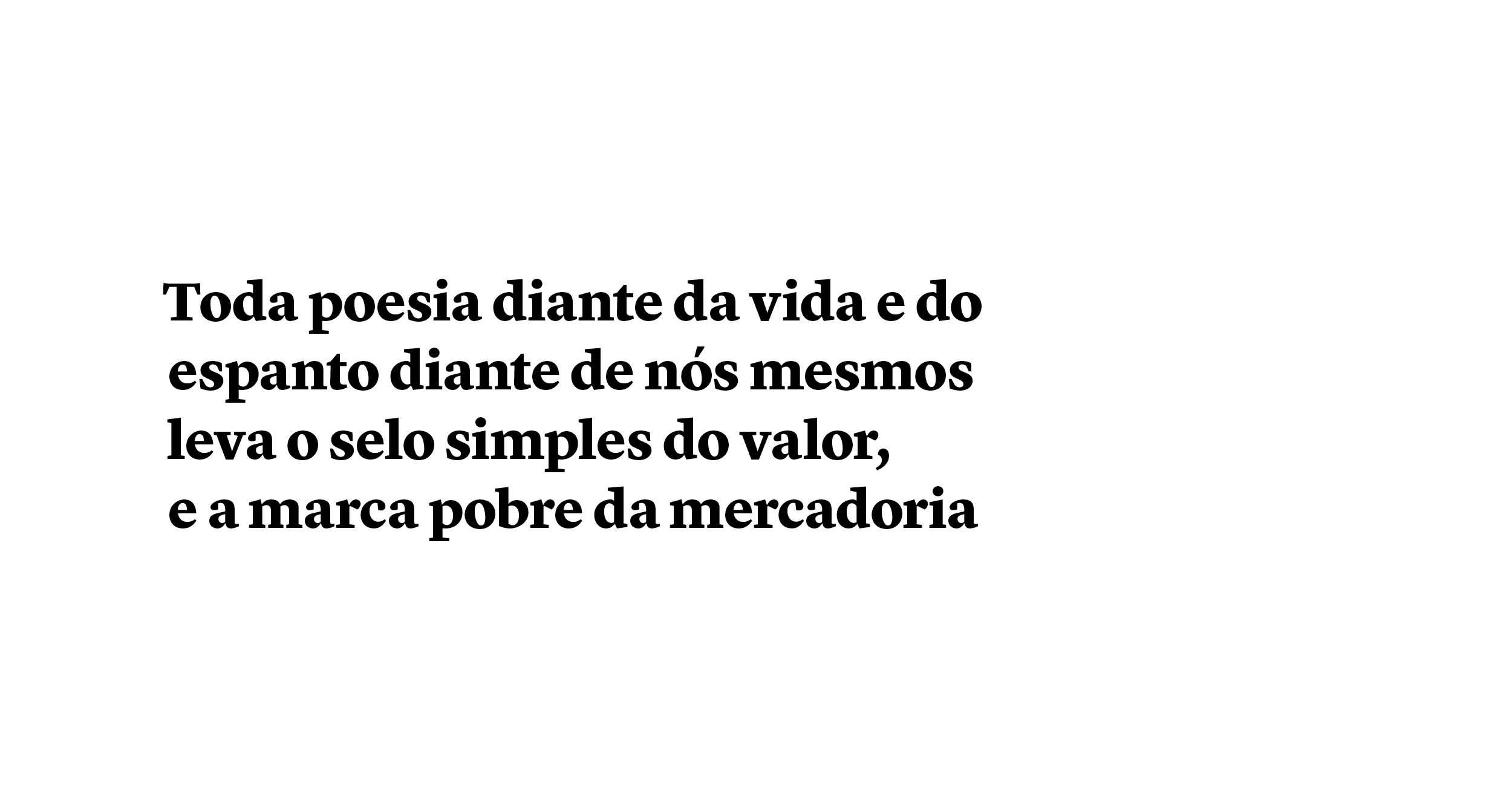
A velocidade do mundo da catástrofe iminente do mercado global é tamanha que podemos dizer que, já na origem da história, dado o estado técnico do tempo, quando o vírus apareceu em Wuhan na China ele já estava na Lombardia italiana, em Madri, em Nova York, em Teerã, em Paris e em São Paulo, bem como, evidentemente, ele já estava na Coreia e na Alemanha – os países um pouco mais conscientes política e tecnicamente para responderem o mais rápido possível à catástrofe imunitária anunciada já na primeira aparição, e salvarem o máximo de vidas ante a inércia da velocidade do mundo articulada à velocidade do próprio vírus. Assim como, em uma velocidade que transcende o tempo e o espaço, o vírus já estava bem figurado em 2011 no filme de Soderbergh, sonhado em sua aproximação psicossocial e de terror. Ou até mesmo, já sonhado há muito nos velhos filmes de ataques enigmáticos de bolhas assassinas ou doenças vindas do espaço, que pululavam nos anos 1950 da Guerra Fria e sua paranoia objetiva de liquidação iminente da humanidade a partir de um agente íntimo e estrangeiro. Avatar da velocidade da luz de nossas próprias comunicações globais, o vírus vem realmente do tempo humano degradante do espaço e tecnológico maníaco, da terra em transe globalizada total, desde as entranhas de nossa vida de desequilíbrios e recusas radicais. Em sua potência, ele foi gestado em nossas ações e nos movimentos práticos nos aviões e na internet, ações e movimentos que também nos impedem de olhar para as perdas aceleradas sempre correlatas à produtividade, para poder nos alcançar logo, em qualquer bairro, supermercado, loja ou rua do planeta. Ou ainda, simbolicamente, em todos os meios de comunicação e de sentido do mundo.
Assim, mais do que nunca, o vírus é de fato mais o que nós fizemos dele e de nós mesmos. Como o transmitimos e multiplicamos, como nos cuidamos ou nos destruímos, como o transportamos de modo quase instantâneo e ubíquo para todas as cidades do mundo, são fatos que fazem parte da sua potência. Objeto de natureza e de técnica, há algo no vírus que vai implicar a revisão política e prática do que fizemos e fazemos de nós mesmos até agora. E já há muito tempo na experiência do avanço industrial e financeiro global, que também desaguou nessa cultura da morte generalizada, que agora se representa pelo ponto objetivo praticamente mínimo no espaço, negativo radical, da existência do próprio vírus – a já bem conhecida necropolítica colonial capitalista, de Achille Mbembe, também necropolítica ambiental recusada, o holocausto colonial de Mike Davis, que sempre acompanhou toda expansão de riqueza material da modernidade. O vírus é momento universalizante de nossa cultura da gestão global da morte, que tem ao menos 500 anos, em oposição a uma possível cultura do recebimento, do cuidado e da vida, da abundância em equilíbrio e suficiente, como expressa a ideia da deusa indiana Lakshmi, uma cultura estética da contemplação e do direito universal à existência de tudo o que é vivo, que insistimos de modo radical em não considerar.
Assim, o vírus nos aparece em suas faces antagônicas. Como outro e radicalmente negativo de nós mesmos, o estranho e estrangeiro absoluto, condensando toda angústia e todo medo diante do polo mais radical da queda, limite difícil de todo narcisismo ou onipotência, da realidade da dor, do abandono e da morte. Como forma primordial de vida, lutando para se manter em reprodução em nosso corpo, com a força da vida que quer viver, como dizia Freud, esse quase nada que precisa se articular a um outro para se reproduzir, fragmento de proteína de RNA com um microtecido de gordura ao redor, por nos ser de fato tão íntimo e saber tanto de nosso próprio impulso destrutivo para o outro, impresso em nossa própria civilização, derruba espetacularmente o homem, parando suas cidades, arruinando suas economias, fazendo tábula rasa de suas relações sociais. Aquele que se considerou o senhor da Terra e da vida, o mais poderoso e plenamente capaz de submeter a tudo e a todos, curva-se impotente por um instante ao mínimo do mínimo do mínimo, à verdadeira microvida, à quase vida do vírus, que é a própria lembrança do real da morte como coisa da civilização.
Por esse lado, ele é tudo o que precisamos mesmo evitar, para não nos paralisarmos diante da vida, a invasão da ideia da inutilidade das coisas, a acédia pós-moderna, da luz negra de um destino cruel que se aproxima com muita rapidez de todos nós. E só podemos torcer para que, quando ficarmos doentes, como provavelmente ficaremos um dia, tenhamos hospitais e outros humanos que nos cuidem no limite da vida e da morte, e que o vírus, e o vírus político do negacionismo neofascista do mundo, não destruam simplesmente tudo.
Ao mesmo tempo, por outra faceta, o vírus nos aparece como fruto simbólico e político daquilo mesmo que fizemos como opção de cultura e de civilização, da modernidade degradada na forma da expansão infinita do circuito de valor, Capital, como resultado do mundo que criamos como cidadãos mundiais do mercado de consumo universal e de nossa tecnologia avançada, orientada somente para a própria produção desse mesmo mundo, que se resolve como uma cifra sempre crescente em um computador de Wall Street, Londres ou Berlim. Um mundo não apenas onipotente, o da técnica, da mercantilização mundial dos espaços e da cidadania mundial do consumo, mas, na mesma medida de seu poder, um mundo também torpe e mortífero. Por um lado, o vírus é a exigência radical de trabalho real, sobre nós mesmos e nossa vida, o simbolizador extremo de tudo o que existe que é morte real entre nós, um foco analisador da vida e da cultura – diante de sua verdade todas as posições, desejos e falsificações possíveis se revelam –, como costumam dizer os psicanalistas. Por outro lado, o vírus é fruto, e seu impacto é resultado, da própria cultura existente, do mercado mundial cosmopolita capitalista, que determina um tanto de sua potência, destrutiva e crítica.
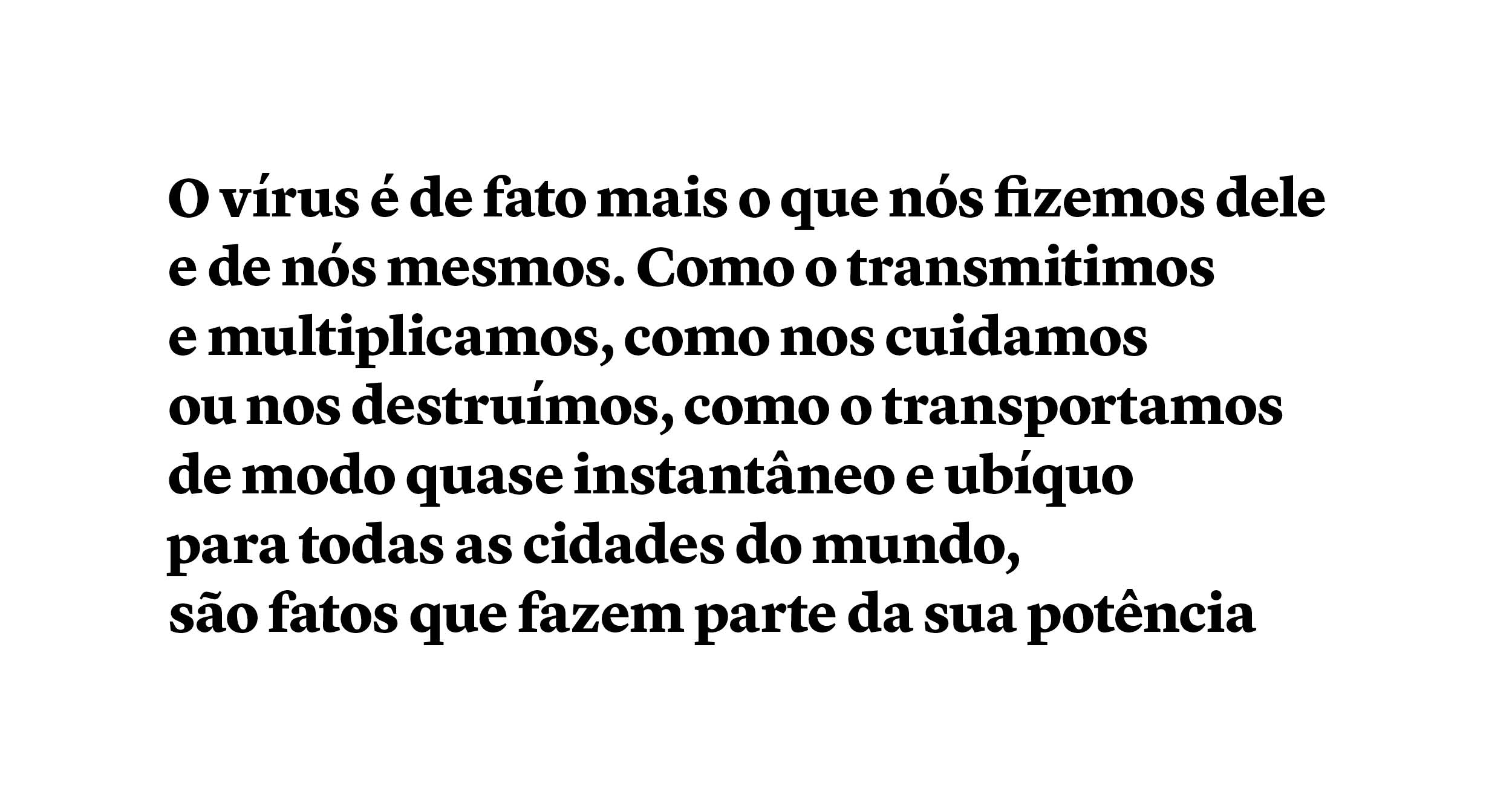
Entre enigma da morte e problema plenamente conhecido, da natureza mortífera de nossa própria ordem da vida, entre obscuro, misterioso e não-eu, por colocar a morte sobre a mesa de jantar de todos nós; ou como resultado pleno, catástrofe de geopolítica global e de economia voltada para forçar a privatização da renda, dos direitos e da saúde, o vírus se faz tão verdadeiramente obscuro quanto simbolicamente situado. Ele tem quase a estrutura simbólica, por assim dizer, de uma formação do inconsciente na civilização, ao velho modo freudiano de entender a coisa do inconsciente: tão presente e afirmativo, cultural e civilizatoriamente, quanto de fato sempre oculto. O vírus é nosso primeiro sintoma global, universalmente percebido pelos homens.
Se a face terrível do vírus é a velocidade planetária de contágio, da vida global e local de mercado articulada em um único grande relógio desabalado rumo à catástrofe, no qual ele adentrou e acelerou – o famoso relógio do fim do mundo dos cientistas atômicos que contam o tempo da aniquilação por vir, desde o advento da bomba termonuclear em 1945, bem comentado por Paulo Arantes, o marcador do processo da hecatombe tecnológica que Günther Anders viu, ainda antes de todos, e que Alan Moore e Dave Gibbons formularam como arte pop maior em seu Watchmen nos anos 1980 –, sua face política é a denúncia radical, incontornável, das opções econômicas e sociais dos últimos 50 – ou 500? – anos da vida sobre a Terra, que fixaram o mundo na cisão da sociedade de classes e transformaram direitos humanos e ambientais em uma barganha tensa de má distribuição geral dos valores, de extermínio bem administrado, ou não, para a contínua acumulação em permanente estado excitatório de aceleração e concentração de poder.
A história da velocidade no século 20, até o paroxismo da velocidade da ubiquidade da internet de hoje, é também a história da dissolução do caráter conflitante da classe trabalhadora em relação à vida de mercado, na vida social. Como o vírus para o mundo e o dissolve por um segundo, a velocidade, o ritmo do progresso imanente nas formas de vida, foi a liga inconsciente do aplainamento da vida política do mundo do trabalho diante do mundo do poder. Das metralhadoras e dos aviões, do vínculo entre guerra e cinema do início do século 20, pensado por Paul Virilio, à linha de montagem de produtos de massa que amontoava populações de proletários e fazia os carros individuais que os dispersavam pelo mundo, de Henry Ford, ao aumento constante de produtividade articulado ao aumento constante de bens da sociedade de consumo, dos Tempos modernos de Chaplin à luta da contracultura de massas dos anos 1950 e 1960 por uma velocidade “para fora” do sistema e para a experiência, versus a velocidade dos aviões supersônicos bombardeando no mesmo momento histórico o Vietnã com napalm – naquela que foi a primeira vitória histórica da lentidão contra a velocidade –, o século 20 efetivamente só acelerou. Na Blitzkrieg da guerra ou do mercado, quem era mais rápido sempre deveria vencer. De fato, a dinâmica da produção, das informações e da circulação financeira global ganhavam velocidade rumo à quantidade de informação veloz, própria da desmaterialização da vida da internet. Em conjunto com a repressão, fosse ela soft ou hard, da violência policial ou da “dessublimação repressiva” do mercado de consumo, contra qualquer ordem de tempo e de espaço da socialização da vida, os homens foram redefinidos pelas práticas da velocidade. No mesmo processo histórico profundo, eles se constituíram como massas de trabalhadores consumidores, que espelhavam na própria alma a vida excitada da mercadoria e sua imagem, os ritmos cada vez mais velozes do mundo.
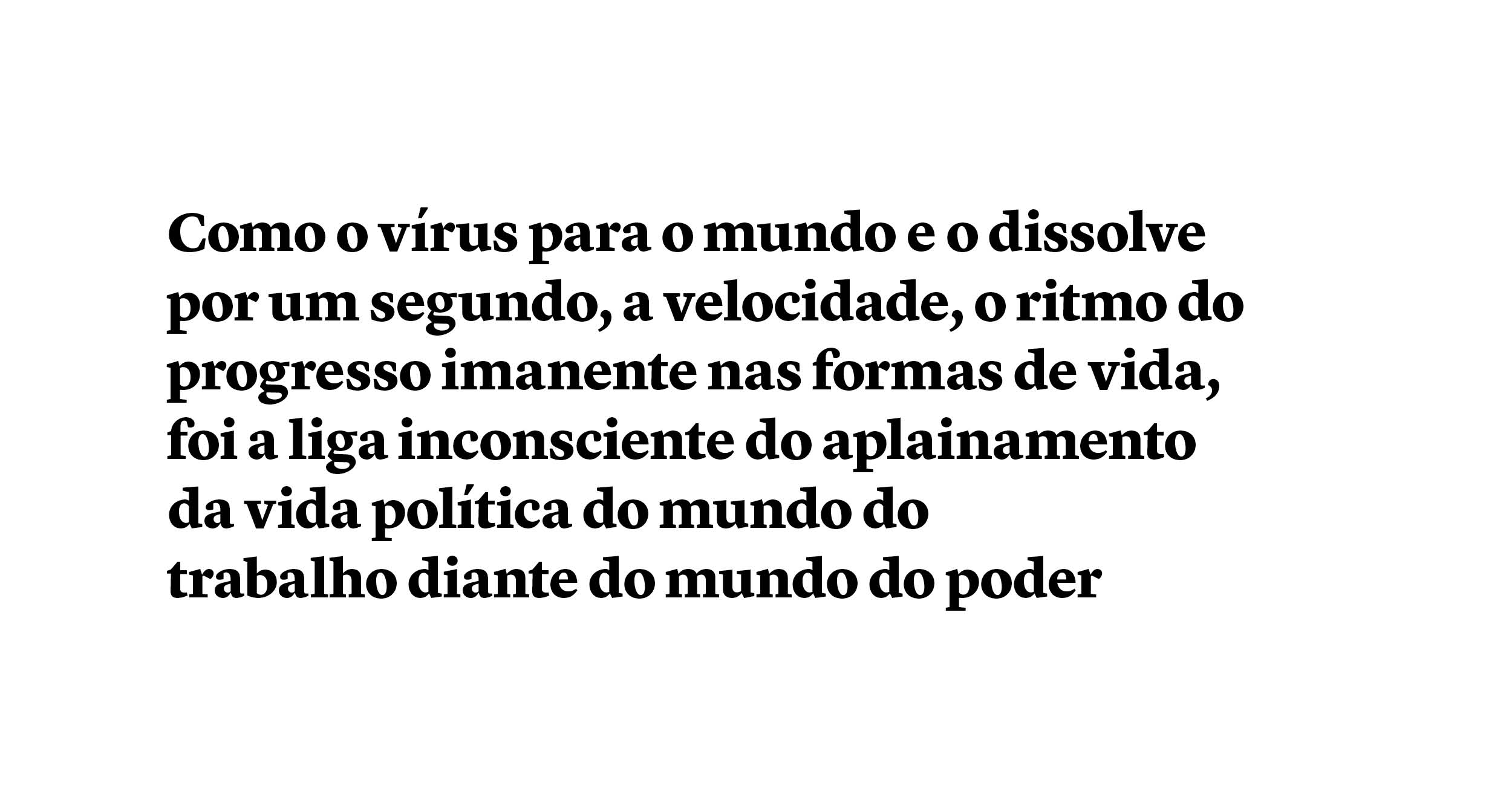
Velocidade, voracidade de consumo, excitação e repressão social davam forma a uma classe trabalhadora que se tornava unidimensional com a vida social, configurada globalmente. Se Benjamin chamou a atenção para o mundo sem experiência da informação de superfície – onde as frutas caíam já embaladas das árvores com a aparente facilidade com que os aviões riscavam o céu – que era a vida prática da indústria, e também a dissolução do mundo da leitura, dos narradores e da vida aberta do primeiro capitalismo, se ele se preocupou com os gases mortais que viriam rápidos como os aviões para exterminar populações inteiras na guerra dos anos 1930, porque não era razoável imaginar que eles viessem de fábricas reais de extermínio de populações inteiras, é porque ele não viu a aceleração máxima e constante dos mercados financeiros de nosso tempo, que fazem realidades econômicas inteiras aparecerem e desaparecerem ao toque de botões, trabalhando dia e noite sem parar um segundo. Bem como mundos geográficos e biomas.
A história da industrialização da experiência é também a história da aceleração do mundo. Muito do sofrimento contemporâneo, vários psicanalistas já observaram, se dá na impossibilidade psíquica política de muitos e muitos de nós habitarem tal circuito veloz traumático da cultura. Porque, como os bits dos milhões que decidem a vida das nações, no fluxo da globalização financeira se movendo como espírito sobre a Terra, os homens viraram insumo abstrato e barato alocável e realocável nesses mesmos processos de informação e de excitação. O destino deles é oferecer os corpos ao modo mais plástico possível, sem caráter – disse desde Mário de Andrade até Richard Sennett –, para serem um duplo encarnado da produção de massas industrial, da libido social da flutuação da informação financeira global, da performance farsesca da economia dos derivativos, que anima ou desanima suas vidas a partir da possessão central do dinheiro. Resolvem sua vida como fantasia da cidadania global no consumo como um espaço político sem contrato regulatório possível, forma rápida e liberada do desejo, bem multiplicado na cultura da imagem permanente do mundo. O homem unidimensional é o espelho triste da mercadoria como sua única experiência, bem concebido por Andy Warhol, e o fascista de consumo de Pier Paolo Pasolini é aquele que esqueceu toda dimensão da experiência que não seja o circuito fechado de viver para as coisas, e as imagens das coisas, que realizam a excitação da circulação do dinheiro o mais rápido possível. O território simbólico do consumo é excitado e monótono ao mesmo tempo, em um vórtice acelerado, uma dominação abstrata, descentrada dos corpos e cujos efeitos inconscientes estão ligados à corrosão da integridade do eu. É dessa massa de pacto com a vida produtiva e consumptiva que se produzem as multidões globais, sempre em busca de uma política que lhes retire daí, mas que volta sempre para o próprio território da velocidade.
Ao mesmo tempo, massas de excluídos, sem lugar em um mundo que também liquida o trabalho na exata velocidade que forma consumidores, são mantidas gerencialmente deprimidas, ou estrategicamente encarceradas, ou até mesmo socialmente exterminadas, em zonas de espera pelo mundo, como disse Paulo Arantes. A velocidade mínima para habitar algum lugar de troca em nosso mundo é a dos carros, das motos ou até das bicicletas, além do WhatsApp onipresente, que driblam o trânsito parado das metrópoles globais, as máquinas da vida dos homens avulsos, uberizados, neoescravos trabalhadores sem direitos, cuja única chance é se moverem o tempo todo, levando com eles outras mercadorias, sejam coisas, sejam homens, pela cidade da vida sem pouso. Por isso tudo, um vírus que faz parar, que faz parar a máquina histórica de fato, realiza o maior choque conceitual e abre o maior espaço potencial de transformação que o mundo capitalista é capaz de intuir. Somos apenas o transmissor veloz do negativo real do vírus, uma parte mesma de seu poder viral. O terror não é o da dissolução dos potenciais de sustentação da vida, que bem ou mal se realizam materialmente já há muito tempo. O terror é o da paralisação do sistema velocidade da vida, que nos diz sempre que, para que a coisa do mundo ande, só podemos viver neste grau de mobilização total dos corpos e dos espíritos. Ninguém pode dar de ombros à máquina do mundo. Ninguém. Apenas o vírus. Há algum direito às formas existenciais da lentidão e do tempo em nosso mundo? Ou apenas a vida sob a forma de uma revolta antissistêmica, no limite do geológico, de um vírus, o menor ser vivo conhecido, nosso inimigo mortal e nosso amigo crítico assustador, pode abrir o homem para a ideia de que há vida para fora do sistema mundial da mercadoria?
A mensagem e o impacto universal do vírus sobre todos – pessoas, países e vida sobre a Terra – configuram agora mesmo o tempo de uma terceira globalização contemporânea, que inaugura o século 21 como mundo próprio de problemas e de experiências segundo as marcações que virão dos historiadores. Afora a globalização estratégica da guerra mundial estadunidense constante, a primeira globalização contemporânea que generalizou modos de viver se deu ao redor dos tratados de desenvolvimento e promoção de democracia liberal, sob a égide da pax americana para quem a aceitou…, dos pactos econômicos internacionais do pós-guerra que modularam e organizaram a ação e o horizonte de desenvolvimento dos países inscritos, o conjunto de consensos conhecidos pelo signo de Bretton Woods. Essa série de entendimentos econômicos e de invenção de instituições financeiras e mediadoras internacionais – Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), agências internacionais de apoio ao desenvolvimento regional nos moldes estabelecidos… – criou as condições para que a cultura da mercadoria global – o mundo de suas cidades, de suas casas e suas vidas, tanto familiares como individuais, bem como a fundamental vida de seus carros… – se projetasse, a partir da década de 1960, como a base imaginária e ideal para a expansão daquilo que foi a grande paixão humana do movimento – de compromisso americano constante: a indústria cultural mundial, e sua sociedade do espetáculo.
A segunda globalização, que está em crise há dez anos, foi a movida pelos circuitos globais do capital financeiro concentrado e das desregulamentações e reengenharias empresariais generalizadas que visavam levar ao grau zero o valor político do trabalho em todos os lugares. Ela se articulou à grande exportação mundial da indústria e do trabalho para o Leste asiático, e à formação radical e celerada de sujeitos e cidadãos mundiais do consumo, com seu desejo simples apoiado na explosão da produtividade de um mercado de oferta mundial de bens em aparente expansão infinita. Foi a globalização dos fluxos de informação, de bens, dinheiro e commodities de modo desregulamentados dos projetos sociais nacionais, a globalização neoliberal dos anos 1990 e 2000. Ela visava a um mundo social homogêneo, em estado puro de consumidores e de trabalhadores sem direitos, de sociedades sem compromisso e pouca ideia do comum. E ela arruinou a si própria, depois de um rastro de destruição mundial, como jogo de pura especulação financeira destrutiva levado além do limite, que não existia para o dinheiro global, em 2008 e 2009. Foi nesse espaço histórico de globalização que o Brasil lulista teve um desempenho, social e econômico, o melhor possível. Agora chegamos à terceira globalização, em uma significativa mudança de maré do tempo, que impõe ao mundo o próprio recusado.
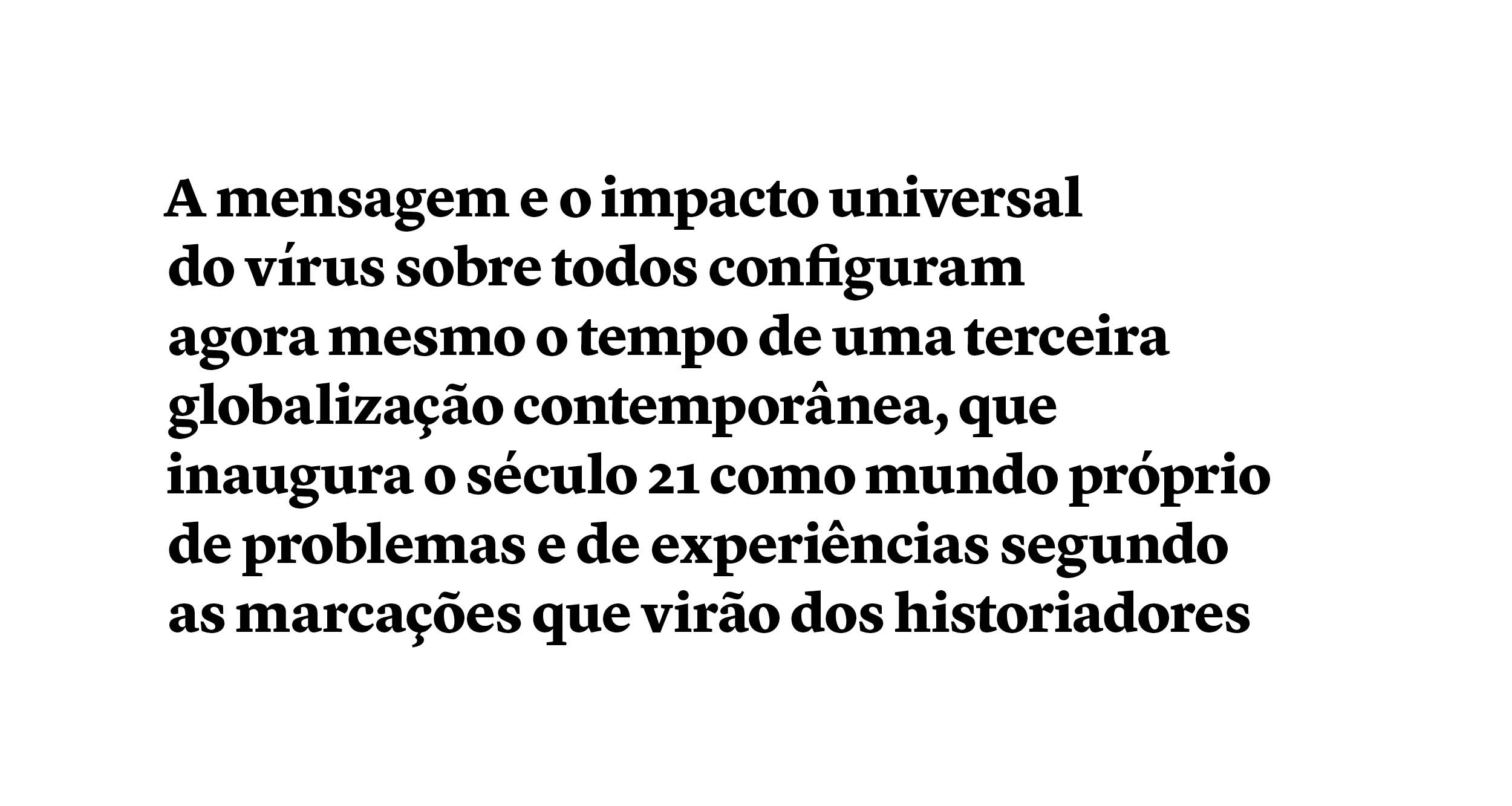
A experiência histórica da crise imunológica e de contaminação viral, pandemia, em escala de toda a vida mundial, força a problemática da saúde como uma perspectiva comum, tanto humana como do planeta. Algo aconteceu que, pela primeira vez, nos pôs em necessidade solidária global, como em um barco – na imagem antiga do papa Francisco –, ou um avião a jato, para sermos mais adequados aos fatos… comum, o destino de nossa dissolução vital junto à do planeta, que será vivido e resolvido de forma necessariamente global. De fato, nosso primeiro sintoma global. Uma globalização da crise, de uma impensável por enquanto saúde pública mundial que se choca com a velocidade extremada a que fomos lançados no mundo do mercado de fora e de dentro de nossos espíritos, produzindo, com o choque, estilhaços de sentido.
O que agora choca muitos no mundo, com a revolução simbólica iminente do vírus desfazendo todos os circuitos e contratos entre nós, e ao mesmo tempo anima tantos outros, é o fato simples de que não existem barreiras, fronteiras, propriedade e cisões espaciais simbólicas – os espaços das diferenças entre as classes inscritas materialmente nas cidades, e no mundo cindido de norte e sul, Ocidente e Oriente, da terra do Capital – que o vírus reconheça, considere ou respeite. Os limites materiais, sociais e simbólicos inscritos nas realidades urbanas das cidades diferenciadas das classes sociais do mundo, que distribuem tudo o que existe de valor de modo radicalmente desigual entre os homens – a lógica da acumulação e da diferenciação do Capital inscrita como urbanização das cisões, em cidades como São Paulo, Níger ou Mumbai, por exemplo – simplesmente não existe para o vírus. Ele é revolucionário apenas por distribuir-se de modo mais ou menos democrático, como único valor reconhecido universal de unidade entre os homens no mundo do mercado. A democratização da morte nos lembra da falta de democracia real. Certamente as classes sociais encontrarão modos diferenciados de privatização do cuidado e do respeito na hora extrema da universalização da infecção, como bem disse Mike Davis e como denuncia o pensamento antirracista nas grandes cidades americanas da pobreza e da pobreza negra e latina. Mas, também, nunca entre os homens, ao menos desde as grandes revoluções socializantes do passado que forçaram a universalidade da ideia dos direitos, um polo simbólico/real comum se fez mais ou menos tão bem distribuído, tão universal em seu direito irrecusável, tão revelador da unidade da experiência social sob o que a recusa sempre, mesmo que a produzindo de forma negativa.
Pelo negativo e pela morte, o vírus força a consciência da ilusão histórica, produtora de poder, da diferenciação social e da cisão do mundo, em partes, propriedades e classes, raças e gêneros. Como universal negativo concreto, da distribuição da doença e da morte e da percepção da irracionalidade destrutiva que é pensarmos a saúde como um bem privado, e não como trabalho social e coletivo, o vírus atravessa todo tipo de território estabelecido pelo regime da propriedade, e da história do desenvolvimento capitalista, dos interesses individuais e da acumulação privada de energia social, que despreza a todos os demais entes, seres e mundos desta Terra tornada pequena. Como bem disse a filha do presidente do banco Santander, a segunda vítima do coronavírus em Portugal: onde estavam os milhões de minha família quando meu pai implorava por ar, como todos os demais? O valor da vida e da experiência, da saúde e das relações políticas, quando medido em dinheiro, como forma dinheiro, caiu próximo a zero, diante do vírus. O trabalho social solidário parece valer tanto ou mais que os circuitos fantasmáticos do valor de troca no mundo. Uma dimensão política impensável para muitos.
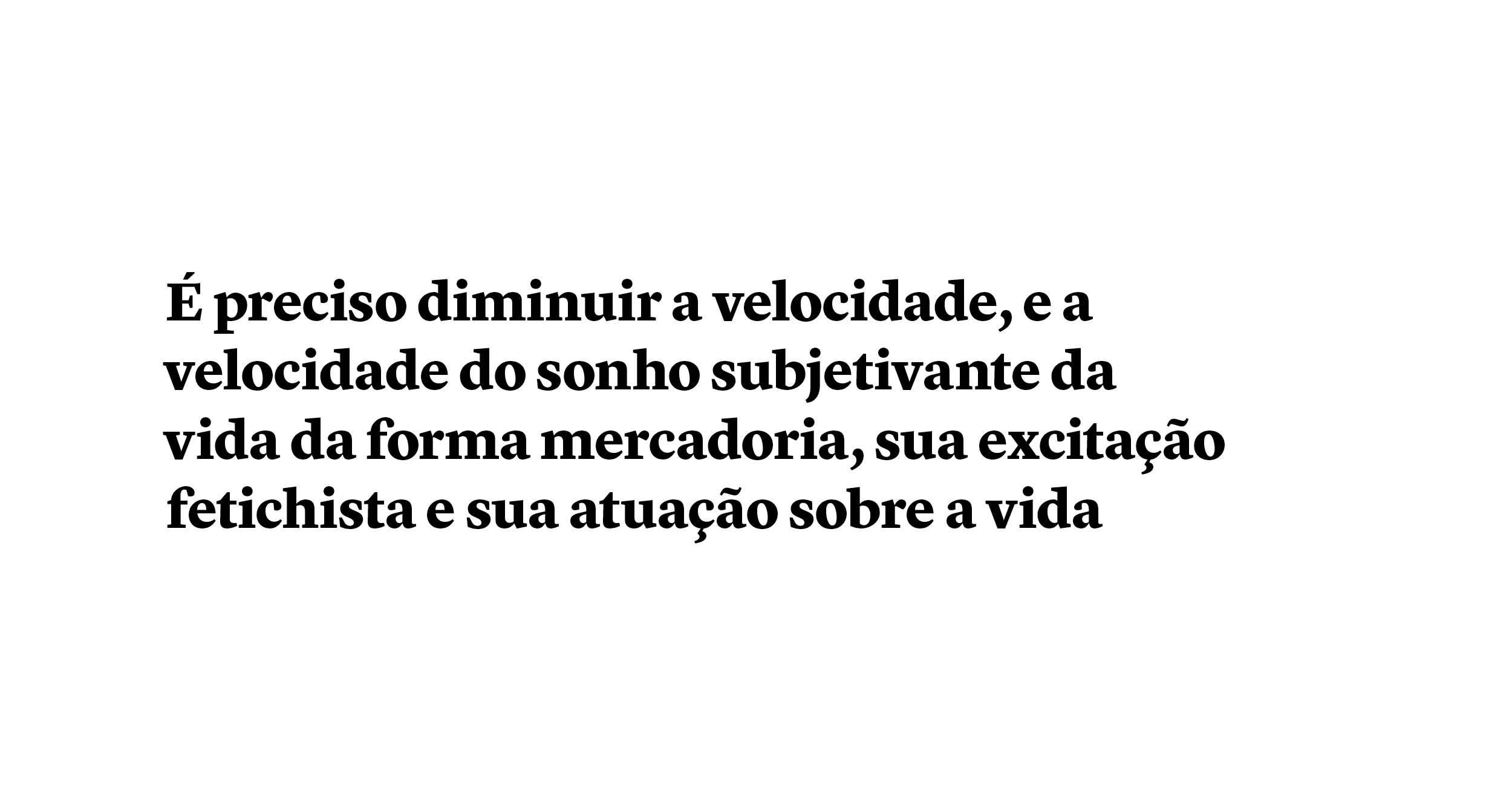
O vírus, ao universalizar a transmissão da morte, utilizando-se dos próprios mecanismos normais da vida hiperveloz do mundo do mercado contemporâneo, faz de todos os homens iguais diante de sua experiência, suspendendo radicalmente por um tempo os contratos e valores – onde estavam os meus milhões diante do universal da crise da saúde que é a mesma de todos? e onde estão diante da recessão mundial do vírus? – e a onipotência técnica dos senhores do mundo, fazendo os valores sustentadores de todos os mercados e contratos, regidos pela propriedade e pelo direito de determinação dos preços do trabalho, sumirem no ar. O vírus mata as pessoas sem respeitar os estigmas de classe, ou os contratos da injustiça, se preferirmos, e desse modo não reconhece o fundamento do contrato social original do mundo do Capital. Não considera nenhuma propriedade, nenhuma fortuna, nenhuma negociação diferencial capitalista para a reprodução da vida. Ele as desorganiza, tira a organicidade de todas elas. O mundo da reprodução e acumulação infinita de valor, que sempre externaliza a morte e gerencia o extermínio dos outros, não existe diante da ação socializante radical do vírus, que, até segunda ordem, não respeita a onipotência arrogante do dinheiro e transforma todos em humanos mais ou menos comuns, miseravelmente comuns diante da morte e do outro humano, forçando enfim uma cultura comum igualmente vulnerável à dor e à extinção. Me parece isso que está expresso, por exemplo, quando o Financial Times, órgão de comunicação dos mestres do universo do dinheiro mundial, propõe em editorial um novo pacto de Bretton Woods, um novo acordo político-econômico mundial que realoque os fundos planetários para a produção consciente e planejada de desenvolvimento e vida por vir… Por que, de fato, se for assim, é porque os contratos das dívidas mundiais geradas na ordem da globalização de mercado dos anos 1990 e 2000 apenas se extinguiram, com o coronavírus humano, por absoluta impossibilidade de serem efetivamente pagos na nova ordem da economia do mundo, pós-vírus. As dívidas terão que ser reinventadas.
Todos os efeitos políticos derivados do ataque utópico do vírus sobre nossa vida virão deste vértice comum: as ordens da propriedade, da riqueza e da pobreza, do individualismo narcísico de mercado e do desprezo pela exclusão fabricada em escala global, junto com a mercadoria, não poderão dar conta da universalização da força do comum, que se impõe pela presença desabusada e universal de uma morte material que nos unifica, o vírus, a crise ambiental, tecnológica e humana. Um comum que só sabe, por agora, se reconhecer assim.
Por isso, em um processo da reversão do casamento da virulência do vírus com a virulência de nosso mundo hiperacelerado de reprodução da vida em desequilíbrio, a ação social universal de desacelerar a vida se tornou parte importante do antídoto. O vírus pegou carona na aceleração, desloca-se para dentro dela e revela o valor de sua desrealização da vida humana e do planeta. O que estou tentando sugerir é que a famosa aceleração da vida urbana global, do capitalismo de poder total sobre a Terra e da gestão das existências… é também o vírus.
E deve ser por isso que, se quisermos sobreviver a ele, como pessoas e civilização – e ainda a outros mais como ele, que virão nas mesmas condições de troca, velocidade, hiperprodutividade e desrespeito sistemático por qualquer refúgio biogeográfico – precisamos vitalmente desacelerar, tanto quanto precisamos de consciência e de ciência generosa. A mercadoria precisa sair de seu regime pandêmico. No momento histórico de grandes consequências que vivemos, não paramos a vida de trocas de mercado apenas porque a contaminação rápida e maciça de um agente infecioso mortal porá em cheque o sistema existente de saúde pública comum, e com ele nossa vida. O mesmo sistema de saúde que as sociedades felizes de individualismo de mercado e inimizade do comum tanto atacaram e esvaziaram nos últimos 50 anos, quando pensado apenas na lógica das desapropriações de classe existente antes do vírus. Paramos a vida também porque intuímos – em um protopensamento político ainda não formulado inteiramente, emergência dolorosa e vital de uma nova concepção e conceituação por vir, que existe por agora no estado de angústia de uma verdadeira pré-concepção, de uma realidade ainda impensável – que a crítica da ordem das trocas mundiais hiperaceleradas e hiperconcentradas em seus polos de decisão e poder faz parte da mensagem do vírus. Reduzir a velocidade da vida, desfazendo os contratos de velocidade, que são verdadeiros conteúdos intangíveis do valor de troca universal da época, passou a ser a face social, coletiva e histórica, de preservação da doença diante da própria vida.
Nosso modo de viver se tornou definitivamente viral, mortífero. Precisamos de menos velocidade, de menos ritmo, de menos excitação generalizada orientada para a reprodução do poder mundial de concentração e investimentos, de modo que tenhamos um mundo de algumas qualidades vitais humanas de algum modo livres de preço. A renda básica universal, compromisso de todos com todos, também aparece exatamente aí. A formação sociológica principal que sustenta tal inferno do poder na Terra é nossa subjetivação para o consumo. Nosso fascismo de consumo, que engoliu a subjetivação política no mundo do século 20.
É preciso diminuir a velocidade, e a velocidade do sonho subjetivante da vida da forma mercadoria, sua excitação fetichista e sua atuação sobre a vida. É preciso de fato controlar o vírus. Mas se o vírus é um negativo absoluto, que chegou a todo mundo em tempo recorde e mudou nossa vida de fato praticamente da noite para o dia, é porque ele convida claramente à experiência do nunca antes pensado. Ele já nos pensou, já alterou inteiramente nosso cotidiano e práticas de existência, no nunca antes pensado. É essa zona de sombra do conteúdo de seu sentido que terá que ser desejada e sonhada, e é esse sonho e desejo histórico que estará em grande disputa. Mas não há dúvida, essa formulação é um potencial histórico, constituída como desejo deste autor. Na disputa pelo sentido por vir da experiência histórica futura, é possível pensar assim. Porém não é necessário que seja assim. Bem mais real é a atenção aos verdadeiros terrores do passado, o que nos trouxe aqui. O passado sabe mais de nosso futuro, do que o desejo abstrato de superação da vida má de nosso tempo pelo que será o trabalho humano a partir da mensagem desconhecida do vírus.
Tales Ab’Sáber é psicanalista e ensaísta, doutor em Psicologia Clínica pela USP e professor da Unifesp. Membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.









